



Mas a história do racismo fundiário, de desigualdade racial gritante na distribuição de terras brasileiras, é ainda mais ampla. É complexa e afeta a dignidade dos povos e comunidades tradicionais e populações negras de formas nebulosas, mas sempre violentas. Essa foi uma das pautas abordadas durante o II Seminário Virtual Racismo e Sistemas Alimentares, realizado pela CESE em parceria com o Instituto Ibirapitanga.
Tatiana Gomes, assessora jurídica popular e professora da Universidade Federal da Bahia, foi convidada para falar durante o Seminário e trouxe vários exemplos. O acesso ao crédito foi um dos pontos levantados durante o debate. Ela aponta que, no Brasil, quem historicamente consegue crédito junto aos bancos é o patronato branco e que esse acesso era feito através dos corpos negros.
“As pessoas escravizadas eram renda capitalizada. Quando elas deixam de ser, são substituídas pela terra. Por que se grila tanta terra e se mata tanta gente por terra no Brasil? É pra plantar? Não. Latifúndios grilados garantem milhões de dólares em crédito. Pequenos lotes da reforma agrária não. Essa é uma das manifestações do sistema de privilégios arquitetado pelo racismo que privilegia a branquitude.”, afirma Tatiana.
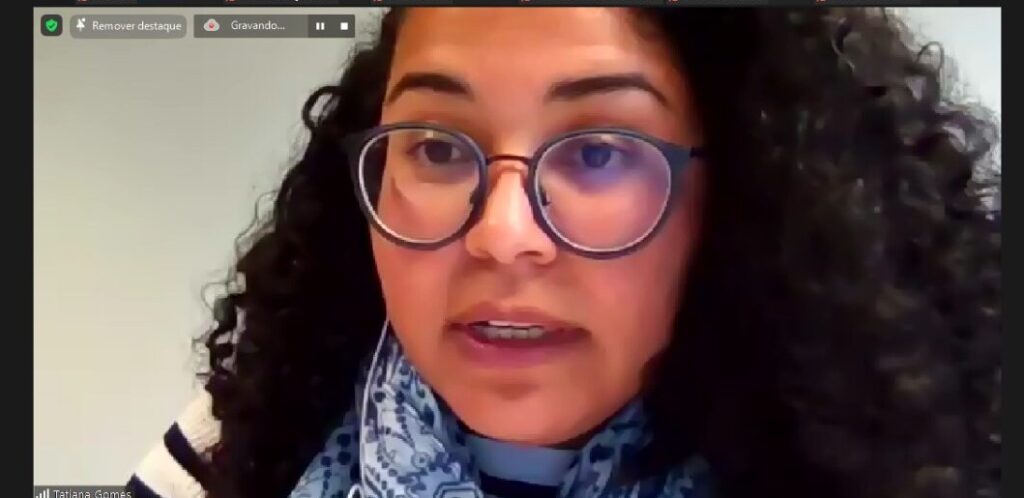
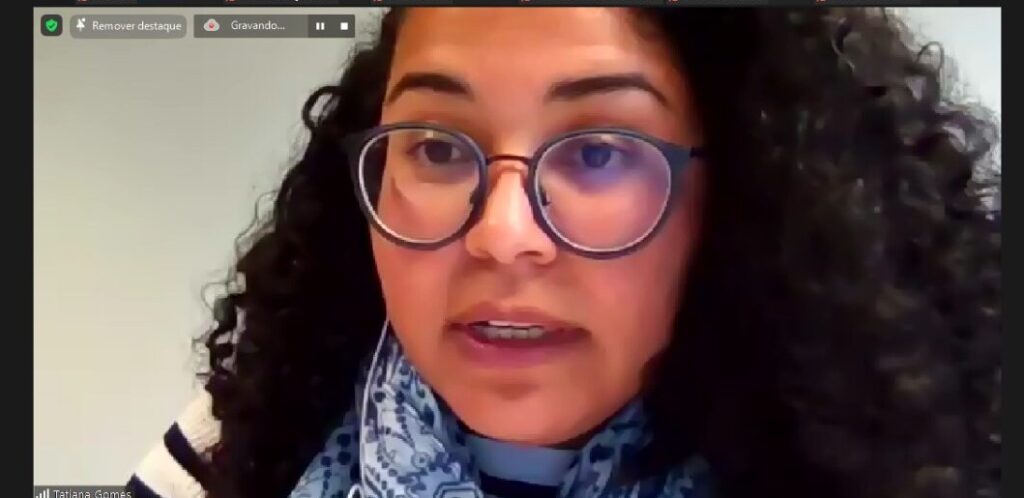
Ela explica que o racismo quando institucionalizado é consciente, pois existem decisões racionais por trás de tudo que limita direitos dessas pessoas. “O que ‘justifica’ a decisão de fechamento de uma escola pública que atende uma determinada comunidade quilombola? Por trás desse ato, existe uma decisão que foi pensada e visava limitar direitos daquelas pessoas”, explica.
Tatiana também relembra que templos religiosos têm garantido pela Constituição o benefício da isenção tributária e igrejas já usufruem desse direito. Porém existem casos em que terreiros de Candomblé são regularmente cobrados por impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). “Não existem igrejas evangélicas e católicas que sejam submetidas a isso”.
A dignidade dos povos
A história de violência dos racismos quando narrada pelas pessoas que vivenciam cotidianamente esses embates ganha contornos ainda mais dramáticos. O relato de Maria Rosalina dos Santos, da Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Piauí (Cecoq) coloca a não titulação das terras como um dos pontos mais cruéis do racismo, pois mantém os povos e comunidades tradicionais em eterna condição de vulnerabilidade.


“Quando a terra não está titulada, não dá nenhuma garantia da permanência do povo naquele território ou mesmo de qualidade de vida; não temos moradia digna. Você não tem água potável, não consegue produzir, tirar seu sustento. Você vive em insegurança. A qualquer momento, o invasor entra em nome do desenvolvimento com o desmatamento, os grandes plantios da monocultura, o envenenamento.”, pontua.
Rosana Sampaio, do Centro de Produção, Pesquisa e Capacitação do Cerrado (Ceppec), conta que até os assentamentos estão se transformando em áreas de soja, no Mato Grosso do Sul. “A pandemia trouxe uma asfixia tão grande para as famílias que elas acabaram se entregando ao projeto de monocultura. E aí vão perdendo seus espaços, suas histórias, suas raízes produtivas. Isso me preocupa porque vivemos isso num momento que todo mundo clama por respirar um ar limpo e a gente vê crescer tanto algo que nos proporciona uma respiração envenenada”, relata.
Alessandra de Arruda, da Takiná – Organização de Mulheres Indígenas de Mato Grosso, demonstra preocupação com o avanço do agronegócio sobre os territórios ingdígenas. “A visão do agro é de que os territórios indígenas são improdutivos. Eu vejo o racismo nisso. Nós sempre produzimos e ainda em grande diversidade.”.
Elizete Carvalho, do Coletivo de Mulheres pelo Cerrado, ressalta que os povos e comunidades tradicionais não querem apenas resistir, mas sim existir com seus modos de vida e cultura. “A gente produz riquezas. Temos um modo de vida que é importante também para a conservação de outros povos. A gente enfrenta o racismo e continua na briga, pegando nas mãos uns dos/as outros/as, pra gente continuar existindo.”
Outras temáticas
O Seminário também debateu o impacto do racismo nos territórios e na produção de alimentos dentro das comunidades contando com a contribuição de Fran Paula, quilombola e engenheira agrônoma da ONG Fase, no Mato Grosso. Realizado pela CESE em parceria com o Instituto Ibirapitanga, o II Seminário Virtual Racismo e Sistemas Alimentares foi dividido em dois dias (29 e 30 de março).
Os encontros também foram marcados por momentos poéticos, protagonizados por mulheres das comunidades tradicionais. Ao todo, nos dois dias, participaram cerca de 80 pessoas de biomas e estados diferentes, mas que enfrentam desafios semelhantes.
Antônio Dimas Galvão, coordenador de Projetos e Formação da CESE, ressaltou que os movimentos têm um papel fundamental de encampar essa luta nos biomas. “O intercambio, a troca de experiências é muito importante. A CESE tá junta com vocês. Nosso papel é tentar fortalecer suas lutas políticas. A gente sabe que o monocultivo, as grandes produções com veneno, não são a solução. Temos que fortalecer aquelas/es que respeitam a biodiversidade, as diversidades comunitárias, sem agredir o meio ambiente.

